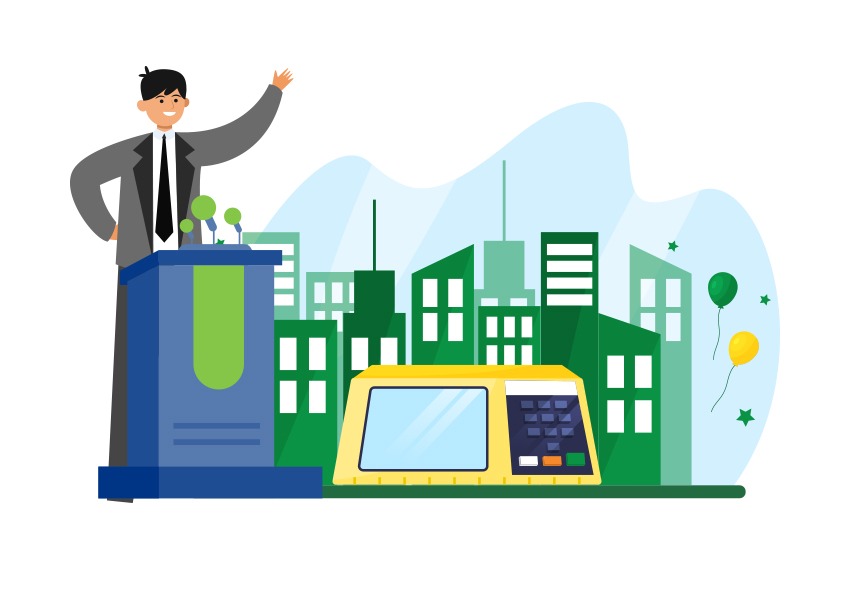terça-feira, 25 de outubro de 2016
Um bom samba, forma de oração
domingo, 16 de outubro de 2016
Eu bebo pra esquecer
domingo, 9 de outubro de 2016
O grande mal
domingo, 2 de outubro de 2016
Vai ser desse jeito
terça-feira, 6 de setembro de 2016
Batidas na porta da frente
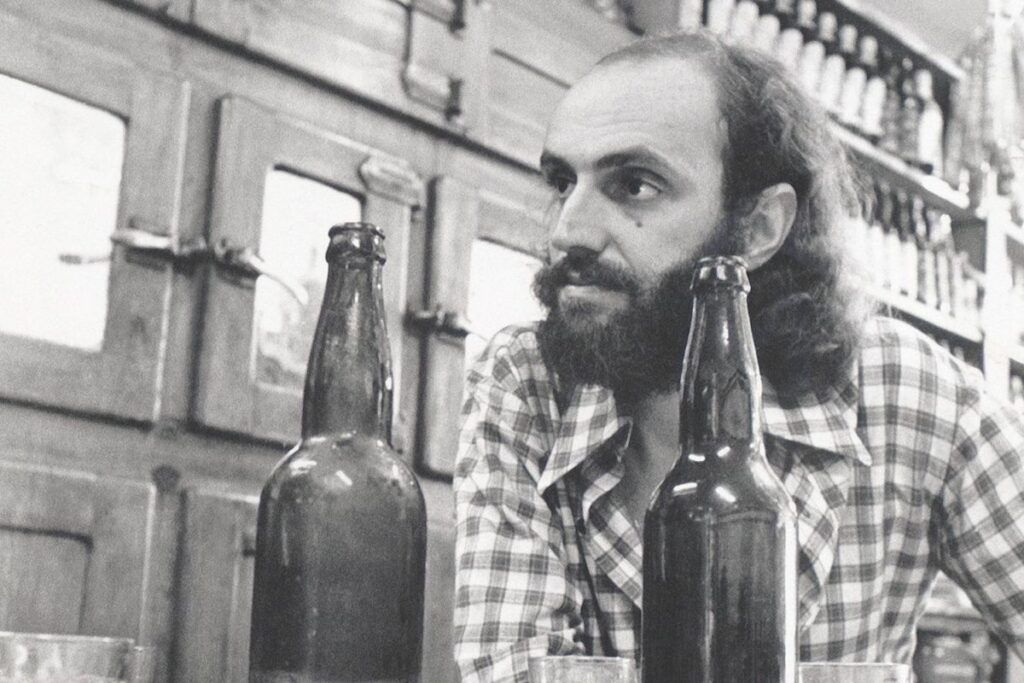 |
| Foto: Adhemar Veneziano |
segunda-feira, 29 de agosto de 2016
Uma campanha na voz de Jovelina
domingo, 21 de agosto de 2016
O que fica depois da Olimpíada
domingo, 14 de agosto de 2016
Meu pai
domingo, 7 de agosto de 2016
Brasil, pra mim
domingo, 31 de julho de 2016
O justo e necessário ensino superior gratuito
domingo, 10 de julho de 2016
Escola sem partido
domingo, 3 de julho de 2016
Do mal será queimada a semente
domingo, 26 de junho de 2016
Pois era noite de São João
Só
fiquei triste quando o dia amanheceu pois era noite de São João. No Beco das
Sardinhas, bandeirinhas coloridas enfeitavam o nosso olhar em direção ao céu.
Luiz Gonzaga e Dominguinhos cantavam pra gente enquanto sorteavam o bingo. E as
crianças, que nos mostram a todo momento a importância de sermos pequenos,
corriam e pulavam e tentavam acertar a boca do palhaço.
Teve
maçã do amor, hambúrguer de costela, quentão, cerveja artesanal e latão; teve
coxinha de pernil, canjica, milho e quindim; teve também brigadeiro, porquinho
de quimono, pastel e brownie. Teve comida popular e gourmet. Porque o Brasil
que conheço e do qual faço parte é feito mesmo dessa mistura que o torna
singular.
E meu
Rio de Janeiro é feito de recordações das ruas onde passei. Com roda de coco e
casamento com oração rastafari, diante da diversidade a gente sorri e sente
vontade de também entrar na roda pra girar a saia. No meio da rua, a quadrilha
mostra essa nossa ébria capacidade de fazer a festa ficar bonita.
Depois
da dança das cadeiras, não podia faltar a corrida do saco, um, dois, três,
valendo, e a gente quase cai, e continua levando a vida a sorrir, que é o que
importa. Barraca do beijo, chapéu de palha e pescaria. Ouvi dizer que comeram o
melhor hambúrguer da vida ali, no Arraiá da Rua da Valinha.
Olha pra
rua, meu amor, vê como ela está linda. Entre uma e outra dança, entre uma e
outra brincadeira, a alegria deixava o mês de junho multicor como o balão que
some no céu. E depois de ver e viver tudo isso, voltei pra casa sabendo que as
noites de São João no Beco das Sardinhas marcaram a alma encantadora do Rio.

.jpg/800px-Desfile_Viradouro_2016_(dsc86490).jpg)