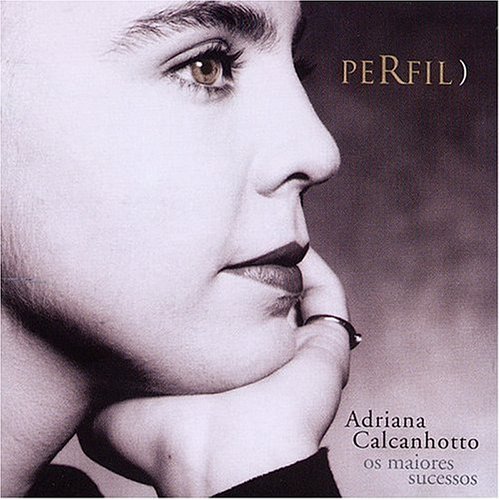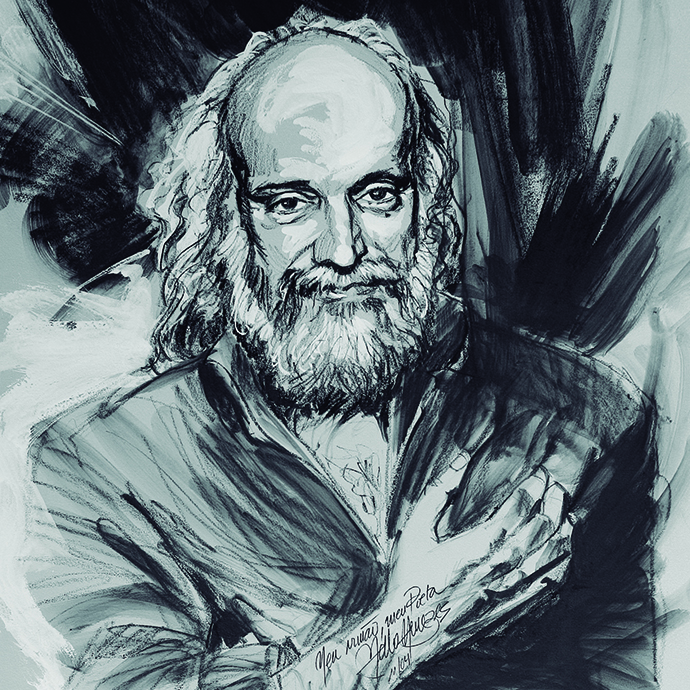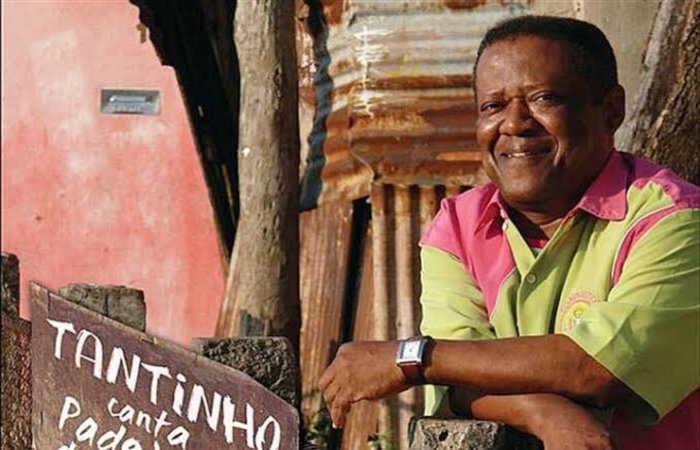Zezé cometeu suicídio ao final da penúltima apresentação de sua peça "Os desesperados", supostamente por causa da crítica negativa publicada no jornal O Diário. João Fortes, autor da crítica, também se matou em virtude dos desdobramentos do texto, já que acabou se tornando indesejado no seu ofício, julgado pela opinião pública como responsável pela morte do diretor e ator. É esse o assunto do conto "O homem-mulher II", de Sérgio Sant’Anna, uma narrativa que aborda os possíveis efeitos da crítica.
A leitura de "O homem-mulher II" me fez recordar uma história contada por José Castello, que vasta experiência tem com o jornalismo literário, em uma crônica intitulada "Um abraço em Moacyr Scliar", disponível no Jornal Rascunho. Nela, relata o que aconteceu depois de ter publicado uma crítica negativa sobre o livro Sonhos Tropicais. Após viver a tensão de não saber o que esperar do autor ao tornar públicas suas impressões, José Castello comenta que Scliar revelou ter ficado furioso e decepcionado, a ponto de pensar em reagir com uma ligação por telefone.
No entanto, eis o comovente desfecho da história: "Aos poucos, contudo, a dor abrandou e, me disse Scliar já com um esboço de sorriso, ele conseguiu enfim pensar. Não adoçou as palavras: 'Quero lhe dizer que você tem toda razão no que escreveu’. Abriu, então, um sorriso vasto e longo, de alívio, mas também de gratidão. Enfim, continuou: 'Depois que a raiva passou e que controlei a vaidade, consegui enfim aceitar o que você me dizia'. Nos dias seguintes, refletiu sobre seu caminho literário, lutou para se observar desde fora. Quanto a mim, estava imobilizado. Cedesse à vaidade, e passaria a acreditar, enfim, que era um 'grande crítico'. Quanta tolice! Minha resenha era não só pequena, mas despretensiosa. Limitei-me a esboçar uma impressão muito breve. Forte era Scliar que, machucado por minhas palavras, soube, ainda assim, lhes emprestar uma grandeza que não tinham."
Diante desses dois episódios – um proveniente da ficção e outro da realidade –, lembrei também que em 1865, no texto "O ideal do crítico", Machado de Assis indicou como deveria ser a atuação de um crítico verdadeiramente comprometido com os caminhos para a formação de uma grande literatura brasileira. Entretanto, pensando mais especificamente na trajetória da crítica literária, recorri a um livro fundamental na estante: Papéis colados, da Flora Süssekind. No artigo "Rodapés, tratados e ensaios", que abre o livro abordando a formação da crítica brasileira moderna, a autora comenta a tensão percebida na década de 1940 entre dois modelos de crítico: o "homem de letras", que publica em jornal, e o "crítico universitário", de formação acadêmica e com publicações em livro. Exemplo disso, como lembra Flora Süssekind, é o embate entre Afrânio Coutinho e Álvaro Lins, este representando o primeiro modelo de crítico e aquele, o segundo.
Ainda de acordo com o artigo, esse conflito entre o crítico de rodapé, leitor não especializado em literatura, e o crítico formado pelas faculdades de Filosofia do Rio de Janeiro (a Letras da UFRJ era um departamento, e só em 1968 se tornou independente, tendo Afrânio Coutinho como diretor), por sua vez interessado na especialização proporcionada pela pesquisa acadêmica, fez com que o crítico universitário ganhasse espaço. Desse modo, o crítico-cronista perdeu um pouco do prestígio que tinha – passado confirmado pelo fato de a obra Sagarana ser muito procurada nas livrarias após a publicação de rodapé feita por Álvaro Lins –, na medida em que surgia a figura do crítico-professor, moldado pela universidade.
Por outro lado, fatores como o interesse do mercado editorial, a demanda da indústria cultural e o tipo de linguagem do texto veiculado em jornal ocasionavam o distanciamento desse crítico. A crítica universitária, caracterizada por uma linguagem profundamente acadêmica e pela produção de um texto mais argumentativo, se torna incompreensível e/ou chata para a lógica jornalística e desinteressante para um mercado editorial que se baseia no consumo do livro, e não propriamente na análise literária, aspectos que posteriormente causam a redução da atuação desse modelo de crítico no jornal. Com o acesso à imprensa reduzido, a circulação da pesquisa universitária praticamente se limita ao próprio meio, e é assim que aparece na década de 1970 o terceiro modelo de crítico, que é o teórico – a exemplo de Luiz Costa Lima e Haroldo de Campos.
Todo esse conflito esmiuçado por Flora Süssekind acerca do crítico especializado e do não-especializado, resgatando o debate sobre quem teria (mais) autoridade para falar da literatura, me fez voltar ao dia em que José Castello foi à Faculdade de Letras da UFRJ, em evento do Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea, há cinco anos. Para mim, que estava no primeiro ano do mestrado, esse encontro – entre a imprensa e a universidade – foi incrível. O Prosa & Verso, do qual Castello era colunista, tinha acabado de ser extinto do jornal O Globo, e todos sentíamos por isso. Naquele momento, sabíamos que o crítico de rodapé, o crítico universitário e o crítico-teórico, cada um com suas especificidades de trabalho com o texto literário, partilhavam a mesma frustração: estarmos imersos em uma sociedade que não valoriza a literatura e, por extensão, o diálogo, a reflexão, o conhecimento.
Hoje em dia, os suplementos literários, com destaque para o crescimento no meio digital, constituem uma essencial ferramenta de resistência. Assim como Antonio Candido defendeu, o direto à literatura é um direito humano: "Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidade e em todos os níveis é um direito inalienável". Essa constante busca – entendida como luta e movida por paixão à leitura – por fazer da literatura um direito inalienável sem dúvida une o crítico de rodapé, o crítico-professor, o crítico-teórico e o leitor comum, que é fundamental para a existência de qualquer texto.